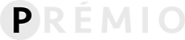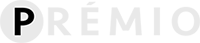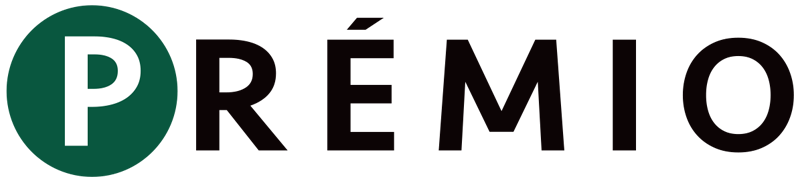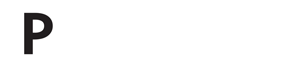Fotos: Fernando Piçarra
Entrevista a Graça Freitas, Diretora Geral da Saúde
Luís Castro
Não se revê na idade que tem, coleciona alfinetes de peito (pregadeiras) e gostou de se ver a dançar com John Travolta.
Gouveia e Melo é Almirante, mas Graça Freitas comanda um “bote” transformado em porta-aviões. É uma falsa frágil e ri-se a cada resposta que dá. É a Diretora Geral da Saúde como, talvez, nunca se tenha deixado ler. Pela primeira vez confessa que chorou – no chuveiro, porque é onde se chora melhor.
De uma avó, encontramos sabedoria no olhar, generosidade no sorriso e proteção nos abraços. Sente que se tornou na “avozinha” de Portugal?
Gosto e não gosto do que me perguntou. Quando a pandemia começou, tinha uma atitude próxima da minha família e dos amigos, mas não dos portugueses em geral. Vivia na retaguarda e aparecia de vez em quando. Por outro lado, também não tinha muito a noção do meu próprio envelhecimento. Nessa altura só me via mesmo avó das minhas netas (da parte do marido). Não me via no papel de avó, nem de avó de muita gente. Com a exposição da pandemia comecei a perceber que chegava a muito mais gente e que interagiam comigo. Comecei na altura, não por ser a avó, mas a Diretora Geral da Saúde e, talvez, a tia.
Prefere ser chamada “tia”?
No final das conferências de imprensa, amigos e até jornalistas, mandavam-me mensagens a dizer que os filhos, sobrinhos e primos achavam que a “tia Graça” era uma velhota simpática. A primeira vez que recebi uma ‘sms’ assim nem sei se fiquei contente ou aborrecida, pois tinha lá a palavra “velhota”. Depois fui percebendo. Ainda não me habituei muito a esse papel, pois obriga-me a ver num papel mais velho em que ainda não me sinto. Acho que não envelheci assim tanto durante a pandemia, mas, na verdade, quando vou ao mercado, em Alvalade, sinto que as pessoas me tratam assim, como uma avó, mas uma avó, que é a Diretora Geral da Saúde, que desempenha o seu papel profissional com competência e dedicação.
Não a vemos como “avó” pela idade, mas pelo sorriso com que nos olha e pela serenidade com que nos fala…
(ri-se) Se é assim, então gosto de me ver nesse papel. Vou contar-lhe: eu saio pouco e quando vou ao mercado parece que vou à Austrália. E é engraçado o que me está a dizer, porque quando era abordada na rua, comecei por ser a “Diretora Geral”, depois passei a ser a “Dra. Graça Freitas” e neste momento sou a “Dra. Graça” – a minha aspiração é chegar a ser só a “Graça”. Tornei-me isso que está a dizer, alguém quase da casa e da família. Gosto de ser chamada assim, pois tem um significado.
Dra. Graça…
(rimo-nos os dois) Estamos a caminho do Luís me tratar só por Graça.

“SENTI NECESSIDADE DE
ESTABELECER UMA
COMUNICAÇÃO EMPÁTICA.
QUANDO COMEÇOU A PANDEMIA,
SABIA O QUE ERA TER MEDO E ESTAR CONFINADA.”
Todos os dias carregamos os três “P”. Qual foi a Graça Freitas que nos entrou em casa quase todos os dias: a “Pessoa” (herdada pela genética); a “Personalidade” (construída durante a vida) ou a “Personagem” (com as máscaras que usamos em cada situação)?
Nunca pensei nisso que me está a perguntar… Olhe, a “Personagem” não foi, isso lhe garanto. Por vezes até tenho pouco cuidado e sou demasiado transparente. Não me está na genética. Fui uma mistura da “Graça-Pessoa” com “Graça-Personalidade”. Há uma característica que acho que tenho: ser empática – pôr-me do lado do outro, porque eu sou o outro. Também já tive situações limite de saúde, de medo e de incertezas, até a nível pessoal. Nesses momentos foi bom ter alguém a meu lado que partilhou comigo esses sentimentos e me deu conforto e esperança.
Foi espontânea?
Sim. Senti necessidade de estabelecer uma comunicação empática. Quando começou a pandemia, sabia o que era ter medo e estar confinada. Ao longo da vida, li muitas coisas sobre a gripe espanhola e preocupei-me em ler os relatos das pessoas que passaram pela doença. Era um sentimento de impotência e de medo, sem saber quem era o familiar, vizinho ou soldado que vinha das trincheiras da guerra que lhes traria o vírus.
A certa altura disse que ainda não tinha chorado, mas que quando chorasse, iria chorar o dia todo. Já chorou?
Sim, já chorei. Chorei uma vez.
Chorou o dia todo?
Não chorei o dia todo, mas chorei um bom bocado. E é engraçado que foi de uma forma absolutamente inesperada. Não foi num dia dramático, pela pandemia ou pelos acontecimentos, foi um dia em que parece que baixei um bocadinho a guarda.
Chorou na DGS ou em casa?
Chorei no chuveiro. Acho que é o sítio onde se chora melhor. (ri-se)
No chuveiro?!
Porque a água leva as lágrimas. Lembro-me sempre do “Blade Runner”, que é o filme da minha vida. As lágrimas na chuva aliviam-nos, mas para os outros são lágrimas perdidas. E pensei, se é para chorar, então vou para o chuveiro que é onde não se vê nem se ouve. Foi um choro que me deu um grande alívio. Não foi causa-efeito. Foi mesmo uma necessidade. E fez-me bem.
Sentiu-se em alguns momentos injustiçada?
Muito poucas vezes. Nunca senti uma ameaça física em que alguém fosse agressivo fisicamente, mas ouvi coisas desagradáveis.
Os portugueses têm-na tratado bem?
De uma forma geral, sim. As pessoas são calorosas, simpáticas e pouco intrusivas. Injustiçada, talvez. Houve coisas que eu disse, no início da pandemia, com o pouco que sabia e que a OMS (Organização Mundial de Saúde) dizia na altura. Depois, tiradas do tempo e do contexto, lá voltavam à superfície. Uns gostam de nós, outros não; uns repetem essas frases, outros dizem coisas boas; para uns sou uma boa profissional, para outros sou uma “chata” da DGS. (ri-se) Paciência, é a vida.
SIS colocou-a sob proteção da PSP durante um ano…
Foi um acontecimento absolutamente extraordinário na minha vida. Quando me deram a notícia, foi das poucas vezes em que não tive uma palavra para dizer – o que não é nada comum em mim. Fiquei tão surpreendida que não consegui dizer nada nem perguntar o porquê. Ainda hoje não sei exatamente porquê.
Passou a ter pessoas na sua vida que não conhecia?
Sim, mas eles são extraordinariamente profissionais e desempenham a sua ação de forma tão incrível que em muito pouco tempo passam a fazer parte de nós e torna-se normal. E isso não se deve ao protegido, mas sim ao protetor. Estão presentes, mas tornam-se invisíveis.
Quanto tempo?
Mais de um ano. Vou confessar-lhe, nunca o disse, jamais pensei ver-me nessa situação. Disseram-me: “Não saia de casa sozinha. A pessoa que nesse dia estiver consigo, sobe e toca à campainha para saírem juntos”. Tenho um apartamento em que o ‘hall’ do meu piso é só meu e a minha grande preocupação era se me atrasasse uns minutos, que essa pessoa ficasse bem instalada. Então, fui buscar uma cadeira à cave, pus no ‘hall’ e disse para o meu marido: “Pelo menos esperam sentados”. A verdade é que já não tenho segurança há vários meses, mas a cadeira ainda lá está. Nunca foi usada, porque os senhores agentes quando saiam do elevador ficavam à espera uns segundos, de pé, naturalmente. Agora, todos os dias penso que tenho de levar a cadeira para a cave porque é bizarro sair do elevador e ter uma cadeira à porta.
Disse sempre tudo o que sabia?
Pergunta difícil. (pausa para pensar)
Disse o que sabia à data. Considero que não escondi nada. Posso ter dito da forma menos alarmista possível. Acho que tive cuidado com os factos conhecidos à data. A forma como lia ou tinha conhecimento desses factos era dramática e, por vezes, alarmista. Tentei dizer o que sabia sempre com verdade, com clareza, da forma mais positiva e sem transmitir medo, pânico ou ansiedade.
Posso resumir que nos transmitiu segurança sem nos dar demasiada segurança para que não relaxássemos demasiado?
Sim, foi exatamente isso que tentei fazer.
Admitiu demitir-se?
Não. Não no sentido de um ato com consequência. Claro que houve dias de grande pressão e stresse. Houve dias de desespero em que à noite, quando me ia deitar, pensava demitir-me, que não aguentava. Mas, eram pensamentos fugazes que no dia seguinte já não estavam lá. Eram um desabafo que me saía da alma. Quantas vezes já pensámos em ir embora, para outro país, e depois ficámos cá, na mesma casa, no mesmo bairro e no mesmo país?
Quando se fala na DGS, imaginamos um edifício enorme, cheio de funcionários, departamentos e especialistas. Quantas pessoas trabalham na DGS?
Somos muito poucos. Tenho que revelar uma coisa que nunca disse publicamente – quando acordo penso nisso – tenho um sentido de gratidão extrema pelos cento e poucos funcionários que somos e que aguentámos esta pandemia. Pessoas que trabalharam de dia, de noite, sábados, domingos e a qualquer hora; que aguentaram os nossos bons e maus humores. Algumas estavam noutras funções mais confortáveis e disseram que enquanto durasse a pandemia estariam aqui para trabalhar.
Cento e poucos?
Sim. Somos, mesmo, muito poucos. Mas os que cá estão são muito dedicados ao bem-servir e, juntos, conseguimos o milagre de criar redes de colaboradores – alguns já são mais do que colaboradores, são amigos. Alguns nunca vi presencialmente. Não os vi, mas sei que existem, pois conheço-lhes os nomes e vejo o trabalho que fazem. Somos um núcleo relativamente pequeno, mas que foi criando raízes e uma rede capilar.
Os portugueses desconhecem essa realidade…
Pois. Na verdade, somos muito poucos e tínhamos condições de trabalho muito más. No início da pandemia, quando começámos a produzir os números para os portugueses, havia colegas médicos que faziam turnos de madrugada porque era necessário validar a informação que os computadores nos davam. Até à Conferência de imprensa, os dados que chegavam de todo o país tinham que ser validados por seres humanos. Pessoas que iam dormindo e acordando para que de manhã os números fossem anunciados com o maior rigor possível.
A DGS era um barco a remos que de um momento para o outro teve que se transformar num porta-aviões, com várias pistas de descolagem e aterragem…
Foi exatamente isso. A melhor definição foi-me dada há uns meses por um governante: “A senhora tem um bote e nesse bote aterram aviões”. Mas já é um bote avançado (ri-se) e nós fomos construindo em cima do bote. Parecemos os descobridores, África abaixo, para dobrar o Cabo das Tormentas.
Sei, por experiência própria, que um médico e um militar nem sempre têm o mesmo objetivo. Como conviveu a médica Graça Freitas com o militar Gouveia e Melo?
Acho que estabelecemos um diálogo que, não sendo muito intenso em quantidade, foi rico em qualidade. Ficou claro, desde o início, qual era o pensamento dos dois – um militar e outro médico. O médico lida muito com a incerteza, o mundo não é nem preto nem branco. Temos mais dilemas do que inevitabilidades e essa era uma das frases que o senhor Vice-Almirante dizia muitas vezes: “Mas não pode transformar esse dilema numa inevitabilidade?”, ou seja, num caminho único. Eu respondia que não. Gostava, mas não conseguia. Houve respeito mútuo pelos papéis que cada um tinha que desempenhar, pelas diferenças de personalidades e pela formação de cada um.
Como se articulou com os diretores dos Hospitais, eles que se dizem totalmente autónomos?
Essa é outra das reflexões que, quando a pandemia acabar, terá de ser feita – se houver tempo e se quisermos aprender lições com estes momentos. Afinal, qual é o melhor modelo de funcionamento: se o centralizado, mais normativo e mais dirigista, em que os capilares do sistema são os hospitais, os centros de saúde com as equipas de saúde familiar e as e as equipas de saúde pública, ou se um modelo mais misto, em que há orientações e normas de boas práticas genéricas em que os serviços se vão organizando e adaptando.
Qual prefere?
O meu próprio pensamento foi evoluindo ao longo da pandemia. Inicialmente estava mais formatada para um modelo mais centralizador. Com o tempo fui, também, aprendendo que na maior parte das vezes as adaptações que foram fazendo aos normativos e às boas práticas tinham a ver com as circunstâncias de cada instituição e que isso era normal. Acontece que, como em todos os processos, há sempre imperfeições. Nem sempre os normativos foram claros, precisos e adequados, nem o grau de autonomia foi sempre bem exercido.
Como reagiu quando ouviu Donald Trump sugerir que os infetados por Covid-19 fossem irradiados por dentro com uma luz ultravioleta ou que os cientistas investigassem os benefícios de os injetar com lixívia e outros desinfetantes?
Não acreditava que um presidente dos EUA pudesse dizer aquilo. No momento fui incapaz de levar aquela afirmação a sério, mas depois percebi que se tornou sério porque rapidamente se espalhou por todo o mundo e teve seguidores e impacto na vida de muita gente.
Viu Herman José a imitá-la?
Não vi tudo. Vi um bocadinho. Mandaram-me pelo telefone. Infelizmente, falta-me tempo para ver Televisão.

“TENTEI DIZER O QUE SABIA
SEMPRE COM VERDADE, COM
CLAREZA, DA FORMA MAIS
POSITIVA E SEM TRANSMITIR
MEDO, PÂNICO OU ANSIEDADE.”
“DURANTE A PANDEMIA,
HOUVE PESSOAS QUE FIZERAM
PREGADEIRAS DE LÃ, COM BOTÕES
OU EM ARAME, METERAM-NAS EM
ENVELOPES E MANDARAM PARA A DGS.”

E gostou?
Olhe, nem gostei nem desgostei, para lhe ser sincera. Achei piada “q.b.” mas não foi um deslumbramento. Achei mais piada a uma caricatura, fabulosa, em que o Vice-Almirante estava vestido de John Travolta e eu de Olívia Newton John. Dançávamos os dois como o John Travolta dançou com ela. Não sei quem foi, mas ainda a tenho no meu telemóvel. Um dia mando fazer uma moldura. Imagine o Vice-Almirante vestido de branco, eu muito mais pequena do que ele, com um vestido vermelho e muito magra. Ri-me imenso. Havia muita imaginação e estava muito bem feito. Era um par improvável.
Tem uma coleção de alfinetes de peito?
Tenho. Muito grande. Dezenas. Comecei a colecionar com poucos meses de idade, com a pregadeira que a minha madrinha me deu. Era muito bonita e em ouro. A minha mãe enfeitava-me a roupa com aquela pregadeira. Depois fui comprando ao longo da vida. Por vezes uso, outras vezes não. Durante a pandemia, houve pessoas que fizeram pregadeiras de lã, com botões ou em arame, meteram-nas em envelopes e mandaram para a DGS. Tenho de lhes agradecer. Uma, muito bela, foi feita pela minha mais próxima assistente, a Ana Meireles.
E usa-as?
Sim, uso!
Nasceu no Huambo, em Angola…
Sim, no Huambo. Na altura chamava-se Nova Lisboa.
Nunca pediu a nacionalidade angolana?
Nascer em África foi um privilégio e gostei muito de ter vivido em Angola. Pela liberdade, porque foi lá que fui pela primeira vez para a escola e que andei à pancada, que dei e levei – levei mais do que dei –, mas quando vim embora para Lisboa emergiu aquilo que sempre fui. Tenho uma matriz europeia.
Voltou ao Huambo?
Não, não voltei. Porque no Huambo, já depois da independência, morreu a minha melhor amiga. Foi brutalmente assassinada. Tinha 18 anos, aconteceu na noite de Natal de 1975. Todos os anos magníficos que tive naquela cidade ficaram ensombrados pela morte da Paula. Não quero lá voltar.
Decidiu não ser mãe?
Decidi mesmo. Foi uma decisão pensada. Nunca tive o que se chama de vocação para a maternidade. Sou muito maternal e gosto de crianças, mas nunca senti essa vontade. Curiosamente, já com uma idade mais avançada, refleti e pensei que se tivesse apoio e ajuda, talvez conseguisse ter um filho. Decidi testar a teoria com a minha mãe e perguntei-lhe: “Se eu tiver um bebé, ajudavas-me a tratar dele? Podia vir cá, trazê-lo a casa e davas-me apoio como avó.” A minha mãe já tinha ajudado o meu irmão e a minha cunhada com os filhos deles, mas desarmou-me quando me disse: “Ó filha, tu tens uma vida tão boa e tão livre e agora queres ter filhos?” (Ri-se).
E desistiu…
Sim, cheguei a casa e disse ao meu marido: “Olha nem a minha mãe está a favor da ideia. Por isso, desisto”. Foi a única vez que pensei ser mãe. Sabia que precisava de ajuda, precisava de uma avó.
Terminámos a entrevista por onde havíamos começado, pelo papel das avós. Graça Freitas saiu, apressada, para mais uma reunião e despediu-se com outra gargalhada: “Você tem um sorriso como o meu”.
(Texto escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico)